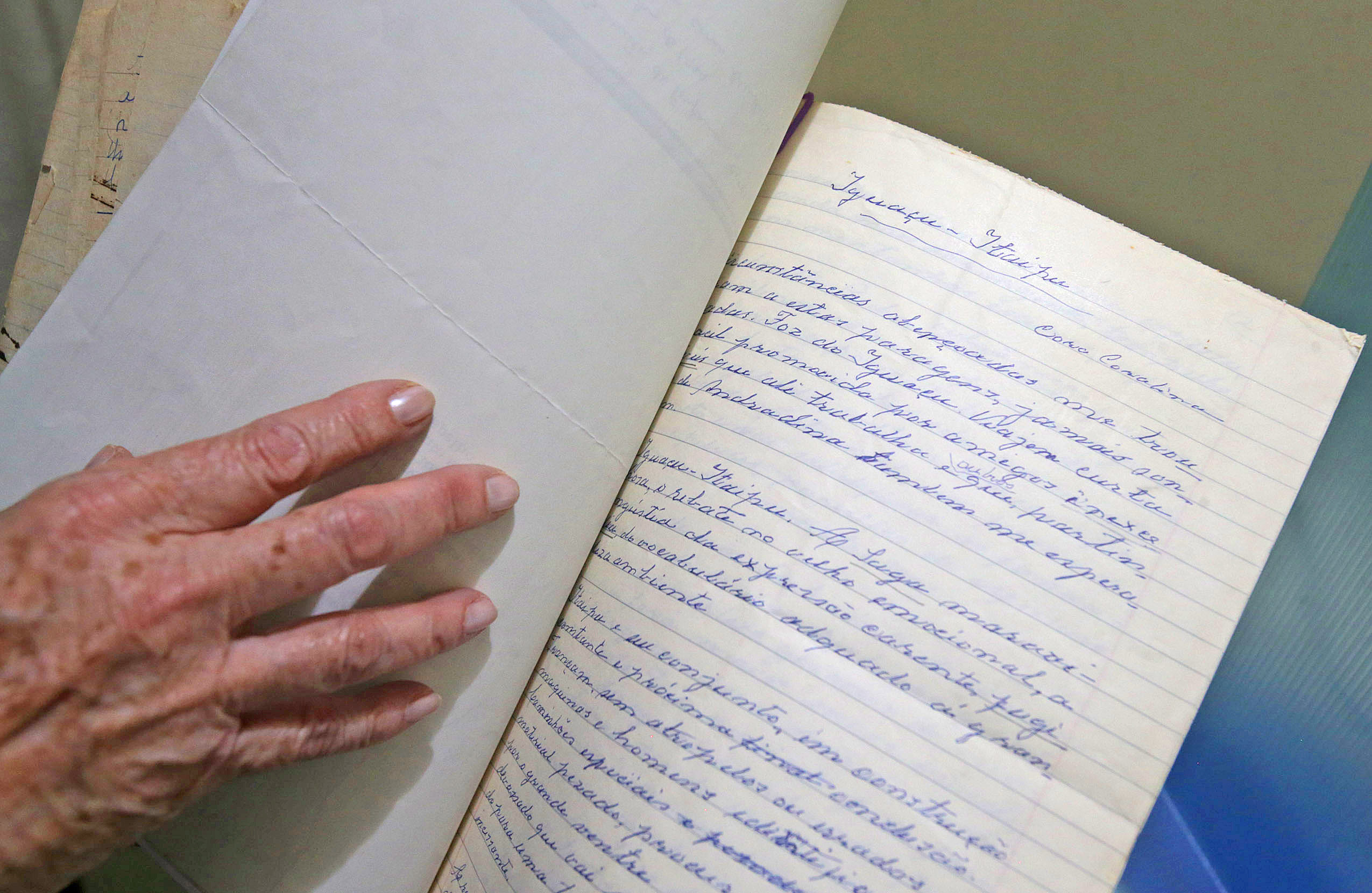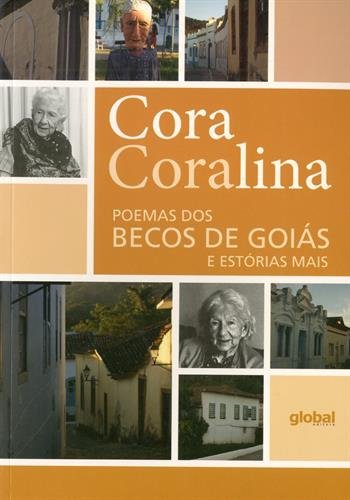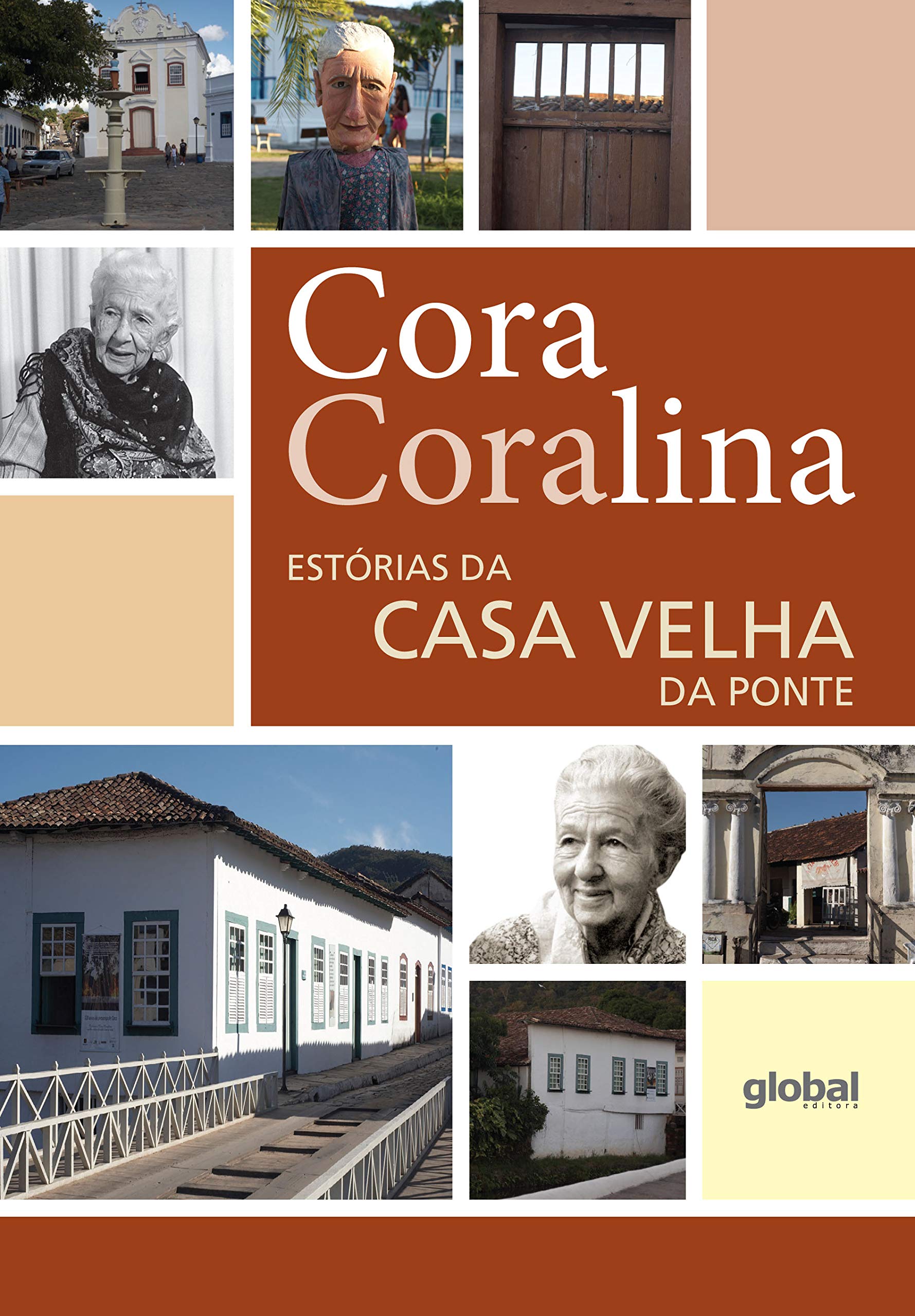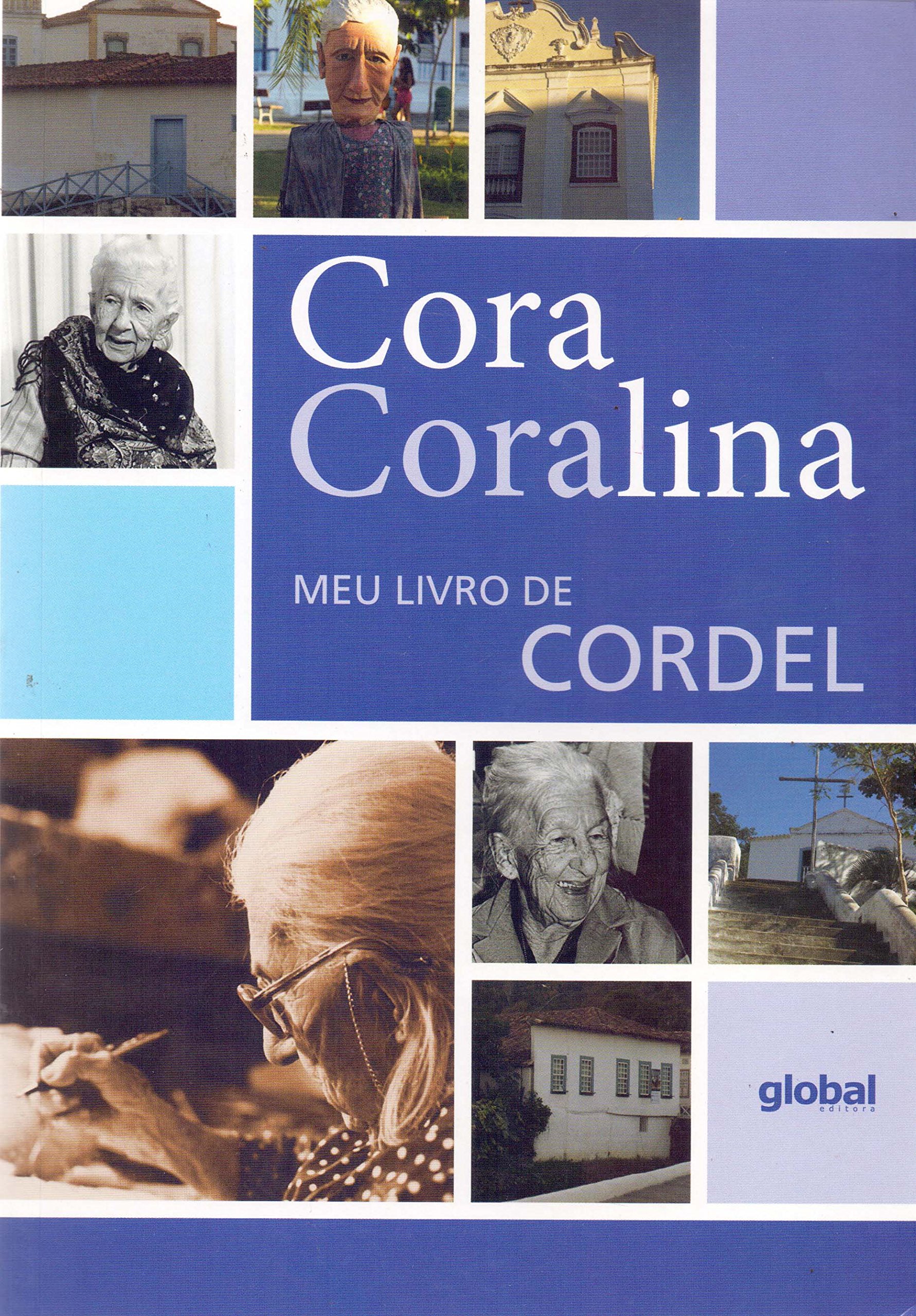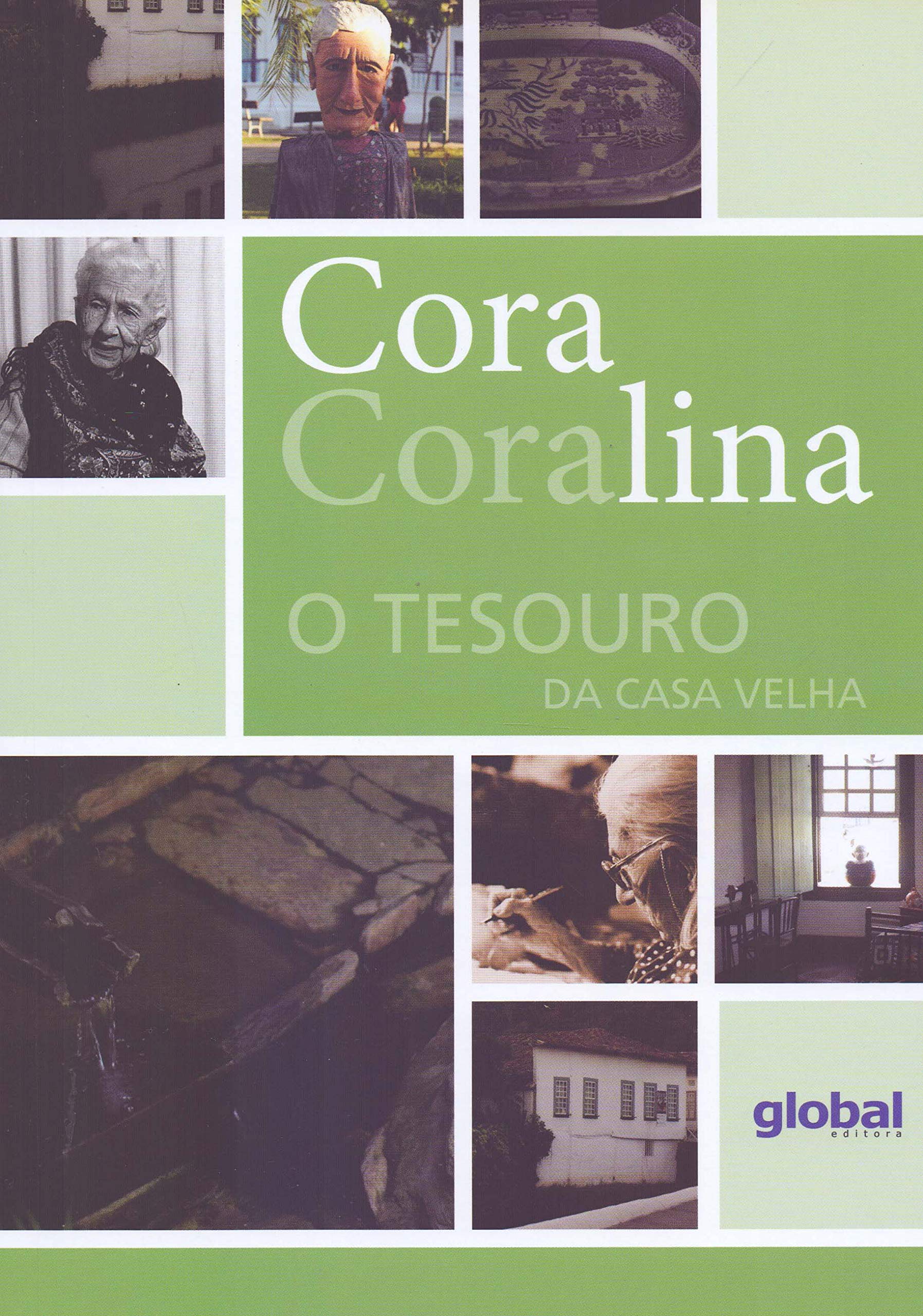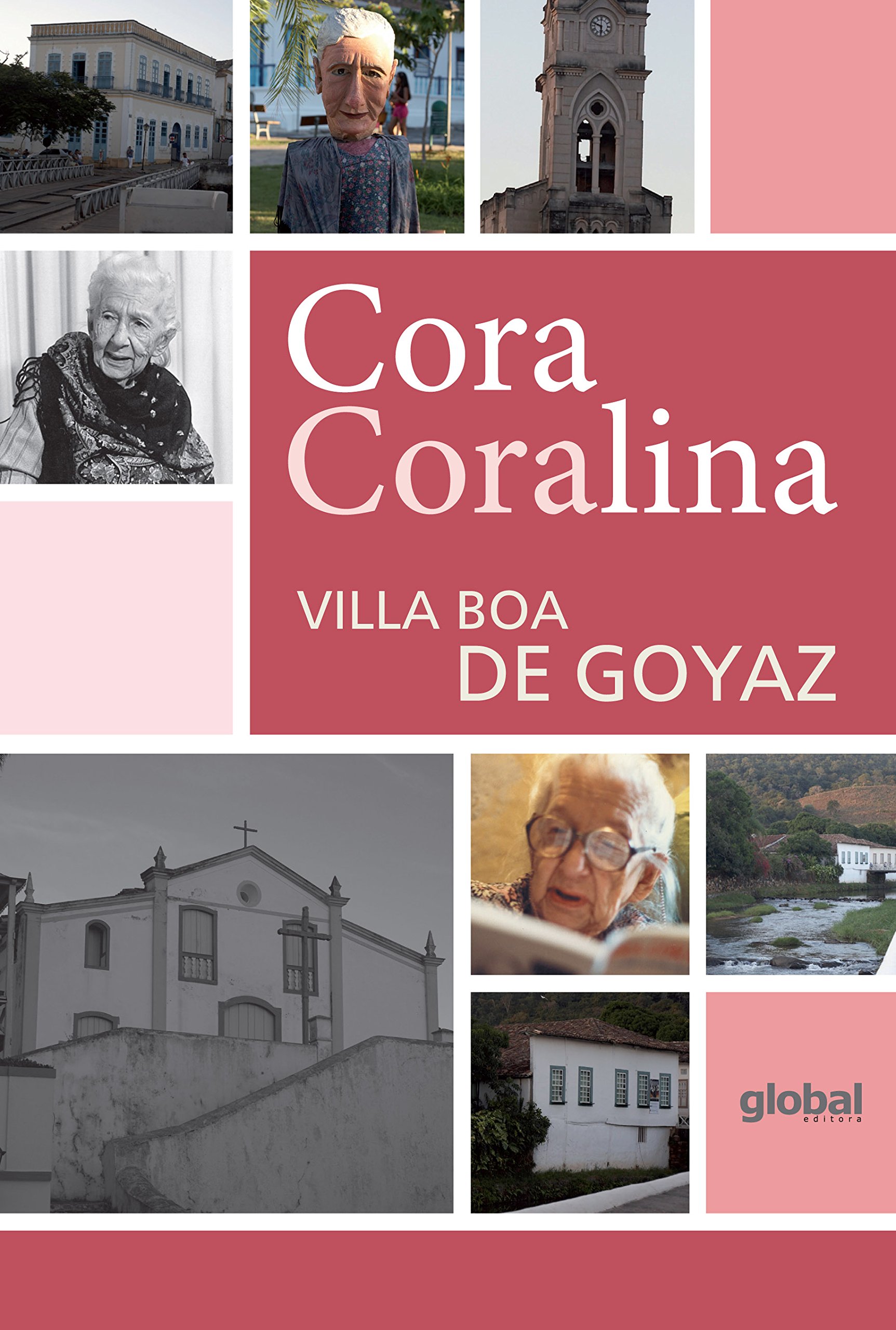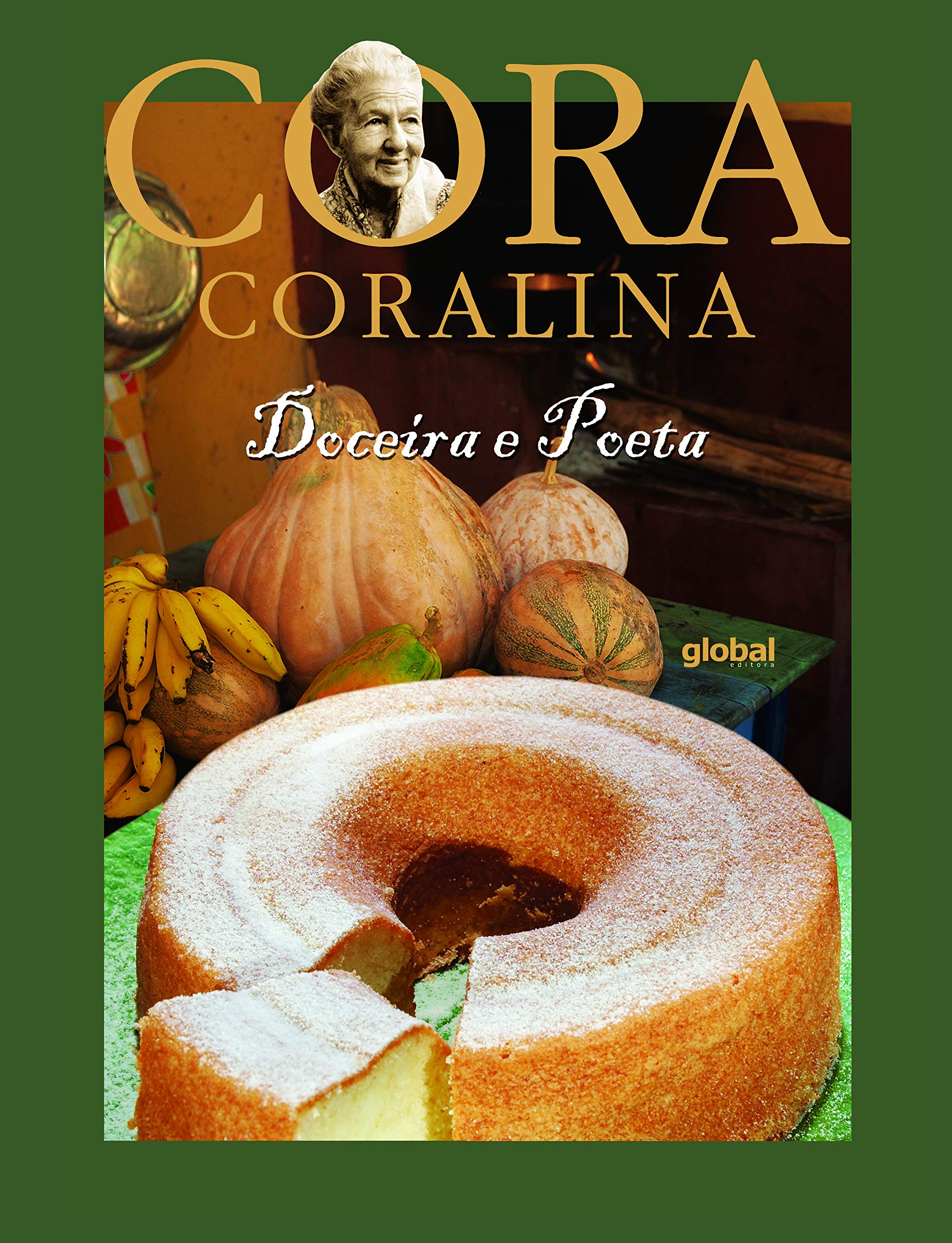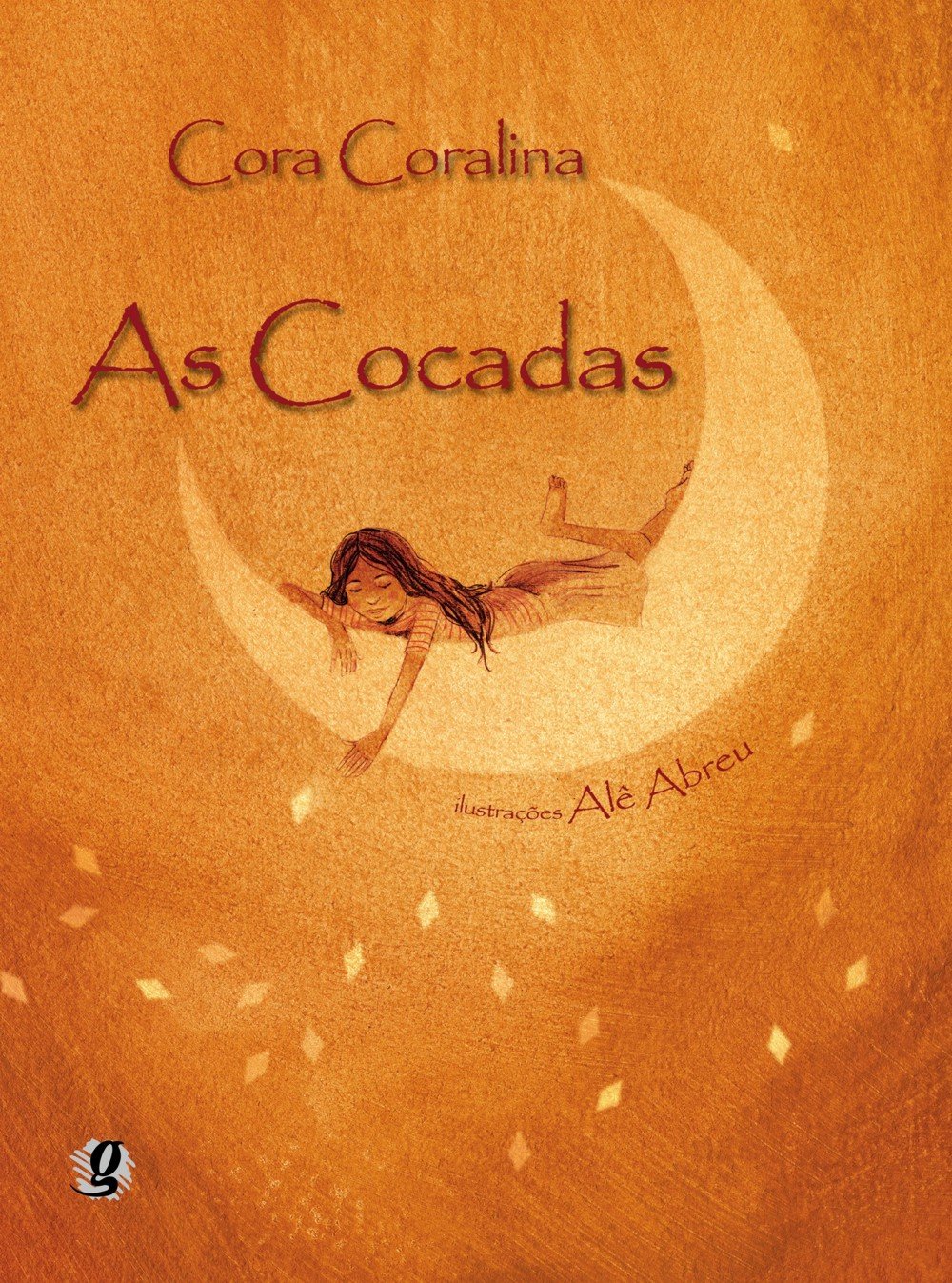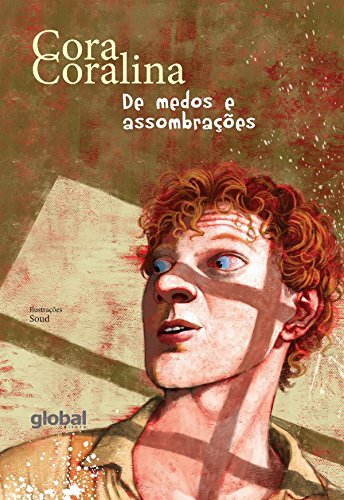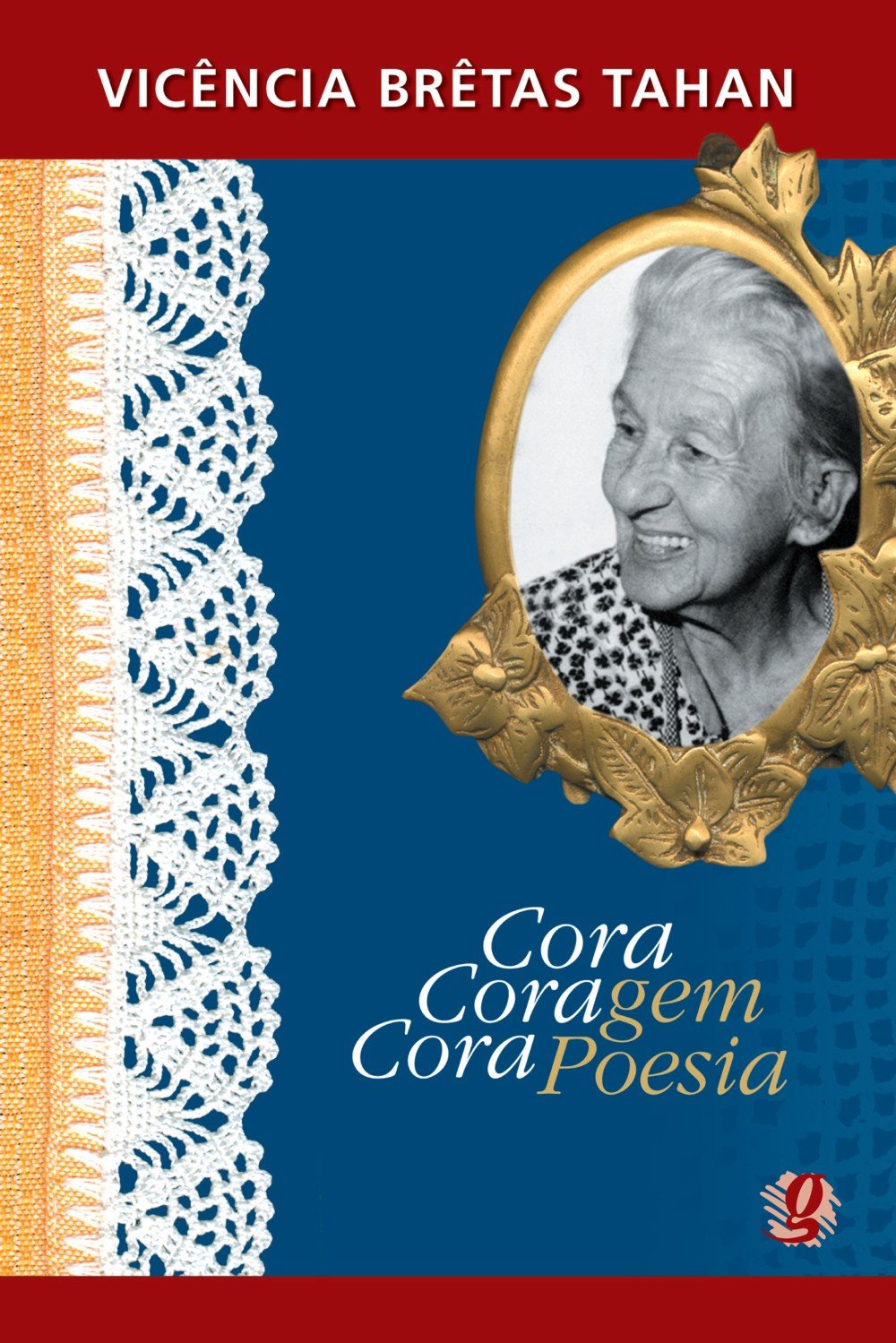O Prato Azul‑Pombinho
Minha bisavó – que Deus a tenha em glória –
sempre contava e recontava
em sentidas recordações
de outros tempos
a estória de saudade
daquele prato azul‑pombinho.
Era uma estória minuciosa.
Comprida, detalhada.
Sentimental.
Puxada em suspiros saudosistas
e ais presentes.
E terminava, invariavelmente,
depois do caso esmiuçado:
“– Nem gosto de lembrar disso...”
É que a estória se prendia
aos tempos idos em que vivia
minha bisavó
que fizera deles seu presente e seu futuro.
Voltando ao prato azul‑pombinho
que conheci quando menina
e que deixou em mim
lembrança imperecível.
Era um prato sozinho,
último remanescente, sobrevivente,
sobra mesmo, de uma coleção,
de um aparelho antigo
de 92 peças.
Isto contava com emoção, minha bisavó,
que Deus haja.
Era um prato original,
muito grande, fora de tamanho,
um tanto oval.
Prato de centro, de antigas mesas senhoriais
de família numerosa.
De fastos de casamento e dias de batizado.
Pesado. Com duas asas por onde segurar.
Prato de bom‑bocado
e de mães‑bentas.
De fios de ovos.
De receita dobrada
de grandes pudins,
recendendo a cravo,
nadando em calda.
Era, na verdade, um enlevo.
Tinha seus desenhos
em miniaturas delicadas.
Todo azul‑forte,
em fundo claro
num meio‑relevo.
Galhadas de árvores e flores,
estilizadas.
Um templo enfeitado de lanternas.
Figuras rotundas de entremez.
Uma ilha. Um quiosque rendilhado.
Um braço de mar.
Um pagode e um palácio chinês.
Uma ponte.
Um barco com sua coberta de seda.
Pombos sobrevoando.
Minha bisavó
traduzia com sentimento sem igual,
a lenda oriental
estampada no fundo daquele prato.
Eu era toda ouvidos.
Ouvia com os olhos, com o nariz, com a boca,
com todos os sentidos,
aquela estória da Princesinha Lui,
lá da China – muito longe de Goiás –
que tinha fugido do palácio, um dia,
com um plebeu do seu agrado
e se refugiado num quiosque muito lindo
com aquele a quem queria,
enquanto o velho mandarim – seu pai –
concertava, com outro mandarim de nobre casta,
detalhes complicados e cerimoniosos
do seu casamento com um príncipe todo‑poderoso,
chamado Li.
Então, o velho mandarim,
que aparecia também no prato,
de rabicho e de quimono,
com gestos de espavento e cercado de aparato,
decretou que os criados do palácio
incendiassem o quiosque
onde se encontravam os fugitivos namorados.
E lá estavam no fundo do prato,
– oh, encanto da minha meninice! –
pintadinhos de azul,
uns atrás dos outros – atravessando a ponte,
com seus chapeuzinhos de bateia
e suas japoninhas largas,
cinco miniaturas de chinês.
Cada qual com sua tocha acesa
– na pintura –
para pôr fogo no quiosque
– da pintura.
Mas ao largo do mar alto
balouçava um barco altivo
com sua coberta de prata,
levando longe o casal fugitivo.
Havia, como já disse,
pombos esvoaçando.
E um deles levava, numa argolinha do pé,
mensagem da boa ama,
dando aviso a sua princesa e dama,
da vingança do velho mandarim.
Os namorados então,
na calada da noite,
passaram sorrateiros para o barco,
driblando o velho, como se diz hoje.
E era aquele barco que balouçava
no mar alto da velha China,
no fundo do prato.
Eu era curiosa para saber o final da estória.
Mas o resto, por muito que pedisse,
não contava minha bisavó.
Dali para a frente a estória era omissa.
Dizia ela – que o resto não estava no prato
nem constava do relato.
Do resto, ela não sabia.
E dava o ponto final recomendado.
“— Cuidado com esse prato!
É o último de 92”.
Devo dizer – esclarecendo,
esses 92 não foram do meu tempo.
Explicava minha bisavó
que os outros – quebrados, sumidos,
talvez roubados –
traziam outros recados, outras legendas,
prebendas de um tal Confúcio
e baladas de um vate
chamado Hipeng.
Do meu tempo só foi mesmo
aquele último
que, em raros dias de cerimônia
ou festas do Divino,
figurava na mesa em grande pompa,
carregado de doces secos, variados,
muito finos,
encimados por uma coroa
alvacenta e macia
de cocadas de fita.
Às vezes, ia de empréstimo
à casa da boa tia Nhorita.
E era certo no centro da mesa
de aniversário, com sua montanha
de empadas, bem tostadas.
No dia seguinte, voltava,
conduzido por um portador
que era sempre o Abdênago, preto de valor,
de alta e mútua confiança.
Voltava com muito‑obrigados
e, melhor – cheinho
de doces e salgados.
Tornava a relíquia para o relicário
que no caso era um grande e velho armário,
alto e bem fechado.
– “Cuidado com o prato azul‑pombinho” –
dizia minha bisavó,
cada vez que o punha de lado.
Um dia, por azar,
sem se saber, sem se esperar,
artes do salta‑caminho,
partes do capeta,
fora de seu lugar, apareceu quebrado,
feito em pedaços – sim senhor –
o prato azul‑pombinho.
Foi um espanto. Um torvelinho.
Exclamações. Histeria coletiva.
Um deus nos acuda. Um rebuliço.
Quem foi, quem não foi?...
O pessoal da casa se assanhava.
Cada qual jurava por si.
Achava seus bons álibis.
Punia pelos outros.
Se defendia com energia.
Minha bisavó teve “aquela coisa”.
(Ela sempre tinha “aquela coisa” em casos tais.)
Sobreveio o flato.
Arrotando alto, por fim, até chorou...
Eu (emocionada), vendo o pranto de minha bisavó,
lembrando só
da princesinha Lui –
que já tinha passado a viver no meu inconsciente
como ser presente,
comecei a chorar
– que chorona sempre fui.
Foi o bastante para ser apontada e acusada
de ter quebrado o prato.
Chorei mais alto, na maior tristeza,
comprometendo qualquer tentativa de defesa.
De nada valeu minha fraca negativa.
Fez‑se
o levantamento de minha vida pregressa
de menina
e a revisão de uns tantos processos arquivados.
Tinha já quebrado – em tempos alternados,
três pratos, uma compoteira de estimação,
uma tigela, vários pires e a tampa de uma terrina.
Meus antecedentes, até,
não eram muito bons.
Com relação a coisas quebradas
nada me abonava.
E o processo se fez, pois, à revelia da ré,
e com esta agravante:
tinha colado no meu ser magricela, de menina,
vários vocativos
adesivos, pejorativos:
inzoneira, buliçosa e malina.
Por indução e conclusão,
era eu mesma que tinha quebrado o prato azul‑pombinho.
Reuniu‑se
o conselho de família
e veio a condenação à moda do tempo:
uma boa tunda de chineladas.
Aí ponderou minha bisavó
umas tantas atenuantes a meu favor.
E o castigo foi comutado
para outro, bem lembrado, que melhor servisse a todos
de escarmento e de lição:
trazer no pescoço por tempo indeterminado,
amarrado de um cordão,
um caco do prato quebrado.
O dito, melhor feito.
Logo se torceu no fuso
um cordão de novelão.
Encerado foi. Amarrou‑se
a ele um caco, de bom jeito,
em forma de meia‑lua.
E a modo de colar, foi posto em seu lugar,
isto é, no meu pescoço.
Ainda mais
agravada a penalidade:
proibição de chegar na porta da rua.
Era assim, antigamente.
Dizia‑se
aquele, um castigo atinente,
de ótima procedência. Boa coerência.
Exemplar e de alta moral.
Chorei sozinha minhas mágoas de criança.
Depois, me acostumei com aquilo.
No fim, até brincava com o caco pendurado.
E foi assim que guardei
no armarinho da memória, bem guardado,
e posso contar aos meus leitores,
direitinho,
a estória, tão singela,
do prato azul‑pombinho.