‘Explosão de inovação vai exigir uma política não binária’
Para colunista do ‘NYT’, pandemia vai levar a uma demolição criativa e exigir uma visão ecossistêmica da realidade
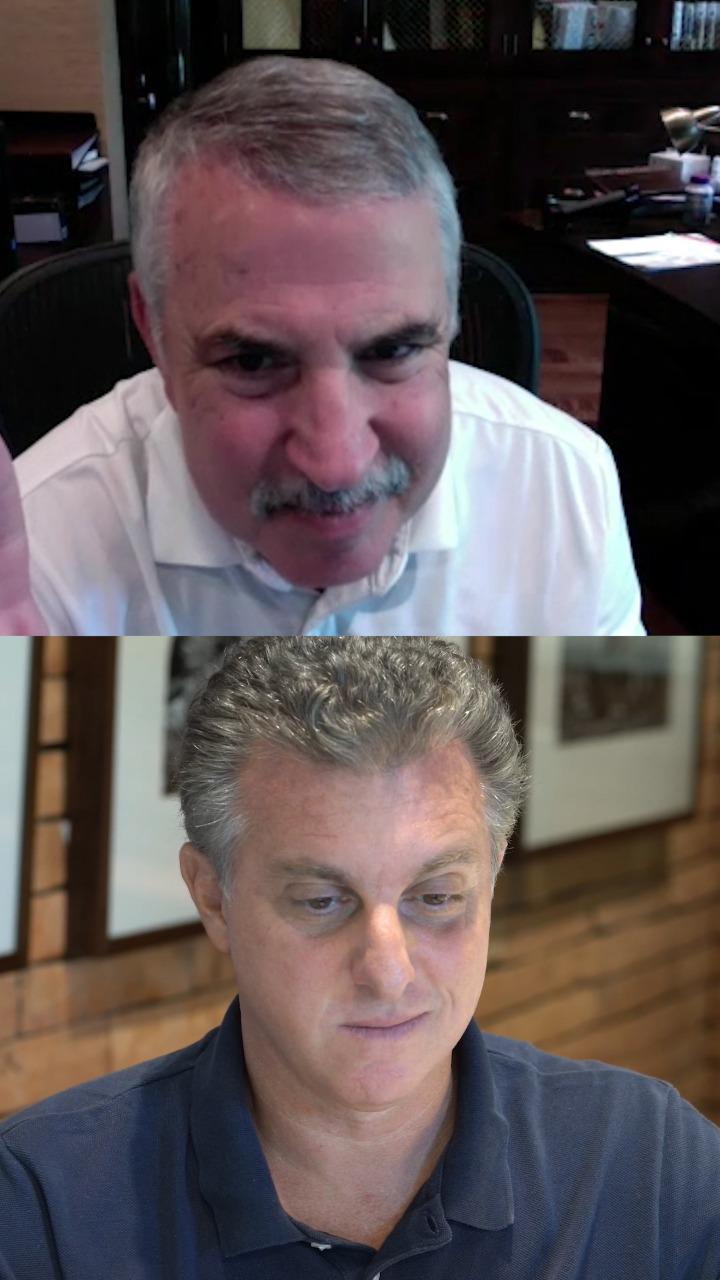
Estávamos entrando na Cisjordânia, vindo de Tel-Aviv, capital israelense. Na van, eu e minha equipe de gravação. Éramos 7. Para adentrar os territórios ocupados por Israel, deveríamos passar por uma “barreira de segurança”. À primeira vista, parecia um pedágio, mas não foi bem assim. Como estávamos ali para contar uma história para a TV, resolvemos aproveitar a parada para fazer imagens das instalações, de dentro do carro. Ingenuidade. Tomamos a maior geral. Um dos guardas percebeu a câmera no ombro do José Silveira – meu câmera há 20 anos, fiel companheiro de todas as boas histórias e roubadas em que já me enfiei. Todos fora da van, revistados e inquiridos até cansar. A autoridade local não tinha mais que 23 anos. Era uma oficial do Exército israelense, brava e armada até os dentes. Ficamos ali por horas até ela concluir que não oferecíamos risco.
O que estávamos fazendo lá? Contando a história de Belisa e seu pai, Joni. Ela havia me escrito uma carta, contando o caso de “um abraço perdido”. Sua família era de Belém do Pará, judia e com pouquíssimos recursos. Devido às dificuldades cotidianas, ela resolveu fazer a Aliah, que resumidamente é a decisão que todo judeu pode tomar: sair de onde está e ser acolhido em Israel. Na carta, ela me contava que, quando decidiu imigrar, o pai ficou tão triste e desapontado que se recusou a levá-la ao aeroporto para um abraço de despedida. O arrependimento logo bateu à porta, mas já era tarde demais. Quase 10 anos haviam se passado, uma saudade avassaladora tinha tomado pai e filha, mas a falta de recursos de ambas as partes impossibilitava o reencontro na Terra Santa ou mesmo uma volta a Belém do Pará. A carta me comoveu, e topamos embarcar nessa viagem levando Joni para um reencontro-surpresa com a filha e o abraço que faltava. O que não sabíamos era que o endereço da filha em Israel iria nos levar a um assentamento judeu no coração da Palestina.
Conto esta passagem para ilustrar a minha relação com Israel. Conheço o país por diferentes prismas. Do adolescente judeu que passou dois meses colhendo abacates e laranjas em uma comunidade rural local. Do pai que foi agradecer os milagres da vida quando sobreviveu a um acidente aéreo. Do curioso que quis desvendar o país ao lado de um padre em busca de diferentes narrativas religiosas. E, como descrevi acima, do contador de histórias que não mede esforços por um abraço.
O território histórico que hoje é o Estado de Israel, e que por mais de 2 mil anos foi palco de disputas entre assírios, fenícios, egípcios, babilônios, persas, macedônios, romanos e otomanos, e que há décadas ocupa as manchetes de jornais em razão das guerras e disputas entre judeus e árabes, sempre capturou minha atenção.
E foi Israel que me levou a Thomas Friedman, colunista do New York Times e um dos jornalistas mais influentes e respeitados do mundo. Minha conexão com suas ideias e visão de mundo se deram inicialmente por meio do livro De Beirute a Jerusalém. Obra que relata parte da experiência, das visões e dos aprendizados durante o período em que Friedman foi correspondente no Líbano e, depois, em Israel e, mesmo tendo sido lançada em 1989, até hoje é indispensável para quem queira entender a geopolítica do Oriente Médio.

Nos últimos 30 anos, Friedman se tornou uma voz potente ao redor do planeta. Além de outros best-sellers publicados, como A Terra é Plana, seus artigos costumam pautar o debate político no mundo. Ele faz uma leitura singular e instigante dos tempos que vivemos, especialmente da pandemia da covid-19. Friedman enxerga um “renascimento” no horizonte: uma explosão de inovação, provocada pelas vicissitudes desta crise econômica e sanitária, que multiplicará o acesso à educação de qualidade, tornará ainda mais obsoleta a política binária, polarizada, e forçará as lideranças mundiais a acolher uma visão ecossistêmica da realidade. E é com Friedman que prossigo essa série de conversas no Estadão com pensadores de vanguarda, gente que inspira e ilumina o porvir.
Veja a série completa 'Uma conversa com Luciano Huck' :
Luciano Huck: Tem uma frase sua que gosto muito, porque ela resume o que norteia minha vida nesses últimos 20 anos: “If you don’t go, you don’t know”. (“Se você não vai, você não sabe.”) De certo modo, é o que me trouxe hoje até você, essa jornada de transformação que venho vivendo em função do meu trabalho na TV, rodando o Brasil de ponta a ponta para ouvir e contar histórias. Aliás, vou começar nossa conversa por aí: como você está lidando com a limitação de ir e vir? De não poder estar “in loco” vendo, ouvindo e aprendendo com a realidade das ruas?
Thomas Friedman: Sabe, é engraçado. Dia desses, de manhã, eu falei por vídeo com pessoas na Índia, à tarde conversei com embaixadores das Nações Unidas em Nova York e, à noite, fiz uma videoconferência com a China. Nunca tive uma agenda tão fervilhante. Não é tão bom quanto estarmos sentados frente a frente, mas é 80% tão bom quanto. E sem as viagens de avião, sem o deslocamento, sem o estresse... Mas, por outro lado, não posso ir ao Rio e andar pelas ruas, sentir as pessoas e as coisas que você sente sendo um jornalista. Por isso, temos essa dicotomia: um nível de globalização mais intenso do que nunca, mas com mais impedimentos do que nunca.
Luciano Huck: Por décadas, você tem analisado governos, países, conflitos, golpes e guerras. Inacreditavelmente estamos vivendo no Brasil assombrados pelo fantasma de um novo governo autoritário. Eu não acho que, no século 21, as democracias podem ser derrubadas a balas de canhão, mas, como escreveu Gustavo Ioshpe, elas podem sofrer com os “golpes botox”: aqueles que, sob uma aparente normalidade, as toxinas corroem o funcionamento do sistema. Não é mais um Pinochet, mas um Putin. Como você avalia isso?
Thomas Friedman: Adorei essa analogia, Luciano. Acredito que os Estados Unidos ainda têm uma influência enorme no mundo. Quando tivemos um notável presidente afro-americano (Obama), isso afetou positivamente todo o mundo, as escolhas e as aspirações das pessoas. Agora temos um presidente autoritário, que quer ser um ditador. Ele mente enquanto respira, usa as redes sociais para disseminar mentiras e leva seus seguidores a abusar das normas constitucionais. Ele dá exemplo a outros. Então, acho que existe uma ligação entre Donald Trump e Bolsonaro, entre Trump e Erdogan (Turquia), entre Trump e Putin, entre Trump e Duterte (Filipinas). Estamos nos EUA agindo com fanatismo e amedrontando nossa democracia, estamos dando permissão para autoritários fazerem política nas redes sociais e enganarem os internautas para se manterem no poder. A única coisa boa que posso dizer dos EUA é que nosso sistema ainda está saudável. As instituições sofreram abusos, mas estão se mantendo. E há uma chance de os eleitores repudiarem Trump em novembro, o que eu não previa. E, se isso acontecer, terá um impacto mundial positivo, especialmente no Brasil.
Luciano Huck: Que análise você faz hoje das eleições americanas? E se tivesse que fazer uma aposta sobre o resultado?
Thomas Friedman: Eu nunca faço previsões, mas sou bom em descrever o presente, e o que posso dizer é que os EUA mudaram definitivamente desde 25 de maio – e costumo ser muito cauteloso com a frase “o mundo nunca mais será o mesmo”. Se nos anos 1960 as cenas na TV de xerifes do Sul soltando cães em afro-americanos – que fortaleceram o movimento pelos direitos civis – foram um raio X inegável do racismo, o que vimos neste ano em Minneapolis, minha cidade natal, aqueles 46 segundos do vídeo do policial sufocando a vida de George Floyd, foi a ressonância magnética do racismo em um smartphone. Você realmente assiste a um policial tirar a vida de um homem com o joelho, com tanta impunidade que, mesmo sabendo que as pessoas estavam filmando, ele não parou. Você realmente ouve George Floyd, suas últimas palavras, que possivelmente foram as primeiras: “mamãe”. Essa ressonância do racismo impactou os americanos. As atitudes em relação aos afro-americanos e ao movimento Black Lives Matter mudaram. E a pessoa que menos escuta essa mensagem no país, a número um, é Donald Trump. Uma incompatibilidade com o caminho que o país está tomando.
“A pandemia veio para escancarar nossas desigualdades. E uma das mais graves, a meu ver, é a desigualdade educacional”
Luciano Huck: O Brasil tem números de guerra quando falamos de violência urbana; mais de 60 mil homicídios em 2019. E, se mergulharmos nestes números, vamos entender que a enorme maioria é jovem, negra e pobre. A violência policial foi o estopim para uma das maiores e mais relevantes manifestações da história dos EUA. Com ecos por todo o planeta, inclusive no Brasil. Entrar no debate antirracista, para nós, brancos e privilegiados, é sempre delicado. Mas, a meu ver, é necessário. Não é tanto sobre ouvir vozes, mas sobre reconhecer vozes. De maneiras e níveis diferentes, nem o Brasil nem os EUA endereçaram a sua terrível herança escravocrata, você concorda?
Thomas Friedman: Está acontecendo agora esse acerto de contas, não com todo mundo, mas com muitos americanos. Inclusive, conversei nesta manhã com um dos líderes afro-americanos de Minneapolis sobre a questão da violência, porque houve mais de cem tiroteios na cidade desde a morte de George Floyd, principalmente entre gangues. E a maioria das vítimas era preta. Depois, falei com uma amiga que dirige uma ONG que procura dar oportunidades de emprego e de educação para famílias pretas. Discutimos sobre como entender essa situação. Porque muitas pessoas brancas dizem: quando um policial branco mata um homem negro, o mundo para para protestar, mas, quando um negro mata outro negro, ninguém se manifesta. Estávamos conversando sobre esse problema, porque isso pode ser usado como uma desculpa para não se fazer nada. E essa amiga me disse: “Pessoas machucadas machucam pessoas. E as pessoas que elas mais machucam são as que estão imediatamente ao seu redor”. Não se trata de fechar os olhos, de dar um salvo-conduto para quem estiver machucado. Mas se trata de reconhecer o contexto em que essas pessoas estão vivendo agora na pandemia. As pessoas que mais sofrem com a covid-19 são as mesmas que estão desempregadas, as mesmas que estão sendo forçadas a voltar a empregos de baixa renda expostos ao coronavírus, as mesmas que são atacadas pela polícia racista, as mesmas que vivem junto com outras pessoas feridas, que estão atirando umas nas outras. Esses problemas são camadas um do outro, e a pergunta é: como você os separa e como você encontra a linha que fornece uma solução. Se você apenas diz que precisamos desmantelar a polícia, você não está apresentando uma solução. Precisamos repensar o policiamento e, ao mesmo tempo, olhar para o contexto.
Luciano Huck: Quando eu escuto você, penso que estamos vivendo o último capítulo do que não funcionou bem no século 20. Não é algo novo, e a pandemia veio para evidenciar todas as desigualdades que temos em países como o Brasil. Você estava falando um pouco sobre o Trump e lembrei que, nos últimos anos, a meu ver, sem que as pessoas tivessem consciência clara do que estava acontecendo, muitos países embarcaram em um “tecnopopulismo”. Estratégias de formar consenso digital por meio de ferramentas não republicanas se transformaram em projetos de poder e, em alguns países, resultaram em governos eleitos democraticamente. Casos dos EUA e do Brasil, dois países, não à toa, cujos governos não passaram no teste da pandemia.
Thomas Friedman: O grande desafio para entender e reagir à pandemia é que você precisa fazer algo que a maioria dos líderes mundiais nunca fez, que é olhar o planeta por meio do prisma da natureza, e não da política nem da economia nem da ideologia. É a primeira vez que ela, a Mãe Natureza, tem o mundo inteiro em suas mãos. Pandemias são bolas rápidas que a Mãe Natureza arremessa na gente. Vírus, germes, incêndios florestais, secas, inundações, furacões climáticos extremos, essas são todas as bolas rápidas que a Mãe Natureza lança nas plantas, nos animais e nos humanos para descobrir quem é o mais apto a deixar seu DNA para a próxima geração. E quem a Mãe Natureza recompensa quando ela joga essas bolas rápidas? Certamente ela não recompensa quem se acha mais forte, Bolsonaro, nem quem se acha mais inteligente, Trump. Não, ela só recompensa os mais adaptáveis. É assim que Darwin pensava. E ela só recompensa três estratégias de adaptação, três perguntas sobre a sua adaptação. A primeira delas: Você é humilde? Você respeita meu vírus? Porque, se não, ele vai machucar você ou alguém que você ama. Número dois, ela pergunta: Você está coordenando sua reação? Porque eu evoluí meu vírus ao longo de milênios, para encontrar uma rachadura no seu sistema imunológico. E, por último, ela pergunta: Você está preparando sua reação baseada em química, biologia e física? Porque é tudo o que sou, a Mãe Natureza diz: sou apenas química, biologia e física, você não pode me convencer nem me deixar pra baixo, eu farei o que a química, a biologia e a física ditam. E eu sempre bato por último e sempre bato mil vezes. Então, se você está construindo sua reação de adaptação em química, biologia e física, você será eficaz. Mas, se estiver construindo sua reação baseada em ideologia política e no seu cronograma eleitoral, eu vou machucar você ou alguém que você ama. Se você tem líderes como Bolsonaro e Trump, que não respeitam a natureza, que não respeitam o mundo natural… um deles não respeita a Amazônia, o outro só respeita a única natureza que conhece, o campo de golfe, onde ele pensa que pode domesticar a força natural e até construir cachoeiras. E é por isso, porque olham para o mundo pelo prisma de ideologias e dos mercados, e não dos sistemas naturais e da Mãe Natureza, que esses dois líderes estão falhando.
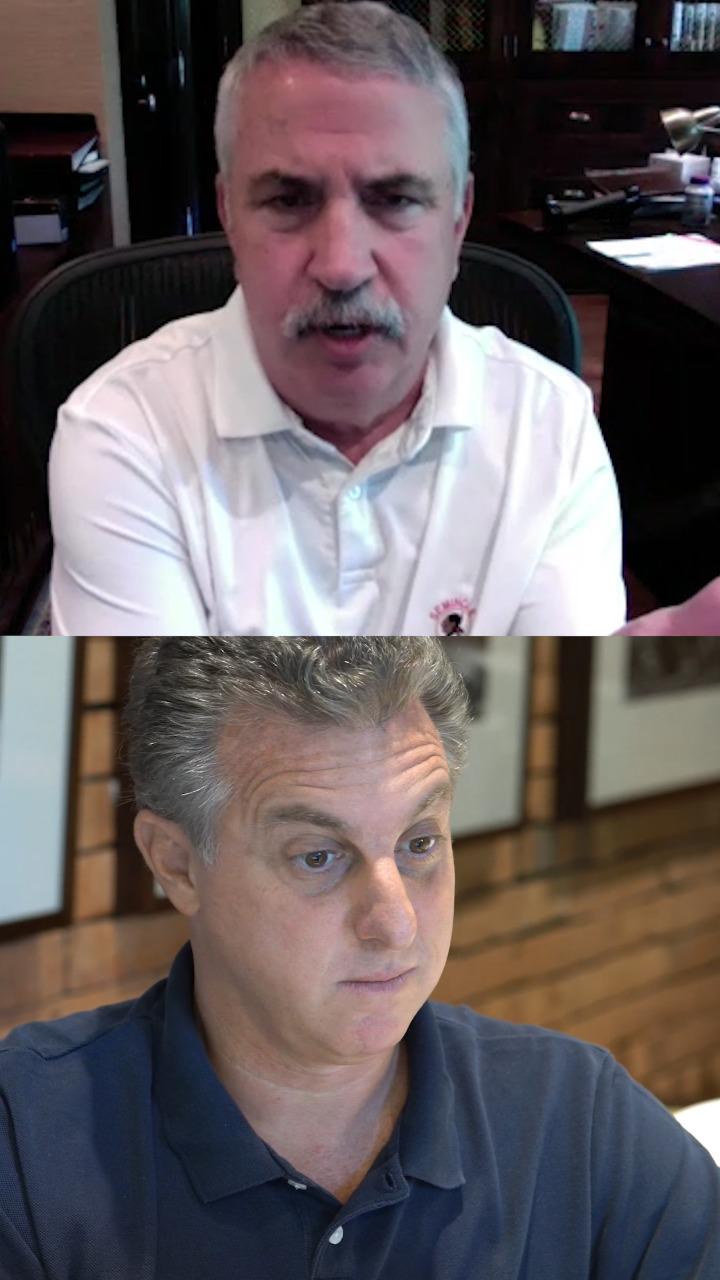
Luciano Huck: Os povos indígenas também chamam a natureza como Mãe. E, a despeito de líderes e governos que desrespeitam a ciência e as pessoas, existe também o desrespeito à natureza. Ouvindo uma liderança indígena há alguns dias, ele dizia que esta crise de saúde é apenas um pequena bronca de mãe. Porque, quando ela fica mesmo brava, as consequências são ainda mais terríveis. Os dinossauros que nos digam. Você acha que mundo vai levar mais a sério os alertas da ciência em relação às ameaças climáticas?
Thomas Friedman: A pandemia é apenas o aquecimento para a maior das pandemias, uma pandemia atmosférica chamada mudança climática. Não se pode esquecer que as mudanças climáticas são diferentes de um vírus: elas não têm um pico. Se a Amazônia se transformar em uma savana brasileira, teremos que viver para sempre sem essa floresta tropical. Quando a calota de gelo da Groenlândia derreter, ela não refletirá mais o Sol, e os oceanos vão subir, e vamos viver com isso para sempre. Também não há imunidade de rebanho: são golpes infinitos no rebanho. E, por último, outra grande diferença entre as mudanças climáticas e a covid-19 é que, para a mudança climática, nós temos a cura. Já temos a vacina. Ela é a redução das emissões de CO2 e a preservação dos ecossistemas primitivos, como a Amazônia. Nós temos a cura. E que vergonha se não nos vacinarmos antes.
Luciano Huck: Na linha do tempo da evolução tecnológica, você coloca o ano de 2007 como “o ano” da transformação digital do mundo. O surgimento do iPhone, Twitter, Uber, Airbnb, Android... Como vamos colocar o ano de 2020 nessa linha do tempo?
Thomas Friedman: Ironicamente, a tecnologia costuma pular os momentos de crise. Intel e Microsoft, por exemplo, nasceram em recessões. Acho que estamos prestes a ver uma explosão de inovação, um dos grandes pontos de pivô da história. Por que digo isso? Porque esta pandemia está atingindo todo mundo precisamente no momento em que mais pessoas têm acesso a ferramentas baratas de inovação e a um enorme poder computacional quase de graça na nuvem. Esse quadro vai nos proporcionar uma demolição criativa de um jeito que eu nunca vi antes. Vai ser o equivalente a uma guerra mundial em termos de disrupção. Te dou um exemplo bobo. Existe um restaurante chinês onde moro, em Bethesda, Maryland. A pandemia veio e obrigou-o a fechar o atendimento de salão. Eles rapidamente abriram para take-out. Já na primeira semana, fui no site deles e vi que tudo estava malfeito, os menus inacabados. Uma semana depois, porém, o site já estava perfeito, com uma novidade: eles anotam a placa do seu carro e, quando você vai buscar sua comida, eles saem e entregam o pedido de acordo com a placa registrada. Isso em apenas uma semana. Multiplique esse exemplo por toda a economia e você verá que temos e teremos grandes quantidades de inovação.
Luciano Huck: Estamos isolados, mas nunca estivemos tão conectados por meio da rede, das máquinas, das telas, das nuvens... Se já passávamos boa parte do nosso dia na frente de uma tela, agora isso escalou exponencialmente. Podemos dizer que estamos mais no ciberespaço do que em casa? Como você enxerga isso?
Thomas Friedman: Isso tem se acelerado. Estamos começando a viver mais da metade das nossas vidas no ciberespaço. É lá que você vai obter suas notícias, criar suas notícias, encontrar um amigo, ter um encontro, conhecer sua esposa, seu marido, escrever um livro, ler um livro, compartilhar um livro. É lá que você vai ao banco, à seguradora. Minha definição de ciberespaço é que é um domínio em que estamos todos conectados, mas onde ninguém está no comando. Não há semáforos no ciberespaço. Não há tribunais. Não há 0800. A questão dos valores e da ética se torna muito importante, pois não há Deus no ciberespaço. E o tipo de comportamento que aparece lá é o que acontece quando não há Deus, nem semáforos nem nada. Você vê no Facebook os valores que devem ser aplicados no ciberespaço, quem deve ter voz para falar e quem não deve, estamos apenas no início de uma discussão muito longa. Não podemos ter um lugar chamado mundo real onde obedecemos às leis e nos respeitamos, e outro lugar onde não há leis nem diretrizes e todos podem ser anônimos e destrutivos uns com os outros.
Luciano Huck: Vou cruzar opiniões entre os protagonistas das minhas conversas das últimas semanas. Com Yuval Harari, falei sobre o controle e o uso de informações dos cidadãos pelos governos, e ele colocou que, nesta pandemia, mesmo países democráticos estão instituindo sistemas de vigilância que provavelmente continuarão a existir depois que a crise sanitária acabar. Sistemas fáceis de criar e difíceis de eliminar, porque sempre haverá outra emergência ou outra justificativa. E que essa autoridade para vigiar o cidadão não deveria ser dada às forças de segurança, como a polícia ou militares, porque elas podem abusar dela. Como você enxerga esta questão?
Thomas Friedman: Não é um acidente que o país que provavelmente fez o melhor trabalho em termos de testagem, rastreamento e quarentena foi a China. Tem a Nova Zelândia, é claro, mas é diferente com um país continental, como a China. Lá, eles têm o melhor sistema de vigilância estatal, e ele simplesmente foi adaptado ou redirecionado para, em vez de governar a população e mantê-la sob controle, encontrar o vírus e detê-lo. Existem basicamente dois tipos de culturas no mundo, a professora Michelle Gelfand, da Universidade de Maryland, escreve eloquentemente sobre isso, ela as denomina culturas rígidas e culturas brandas. Culturas rígidas funcionam de cima para baixo, são muito orientadas pelas leis, respeitam muito as autoridades. As culturas brandas funcionam de baixo para cima, não respeitam tanto as autoridades e as leis, tendem a ser mais inovadoras. Culturas rígidas se saíram muito bem no combate à pandemia, como a China, Cingapura, Coreia do Sul, Alemanha. Culturas brandas tiveram grandes problemas na pandemia, como os EUA, o Brasil, a Itália, que até que se saiu incrivelmente bem depois de um começo muito ruim. Então, não é apenas a vigilância estatal, a base cultural também influencia no combate à pandemia.
“O grande desafio para entender e reagir à pandemia é que você precisa fazer algo que a maioria dos líderes mundiais nunca fez, que é olhar o planeta por meio do prisma da natureza, e não da política nem da economia nem da ideologia”
Luciano Huck: Ainda neste tema, o eixo de poder e influência geopolítica vem se transformando através dos séculos; da propriedade de terras à formação de grandes exércitos, chegando à tecnologia bélica e nuclear. Em uma conversa anos atrás, você disse que o mau uso da tecnologia pode ser muito pior que a corrida nuclear. Você pode desenvolver um pouco essa ideia?
Thomas Friedman: A corrida nuclear é muito perigosa, mas a probabilidade é de que não vamos usar tanto essa energia. Agora, essas tecnologias de vigilância e seus efeitos colaterais, como o abuso de hackers cibernéticos... A ameaça da guerra nuclear é muito teórica, mas a ameaça da guerra cibernética é algo que já estamos vivendo todos os dias. Você viu o que aconteceu no Irã na semana passada? Há alguns meses, o Irã supostamente fez um ataque cibernético a Israel – eles danificaram o controle do sistema de água. Aconteceram coisas no Irã na última semana, mas muitos lugares estão explodindo por lá faz tempo, inclusive o Complexo Nuclear de Natanz, mas também outras bases industriais. E é claro que os israelenses dizem que deve ter sido um relâmpago ou algo assim, mas as coisas estão explodindo no Irã, e isso é um indício de que armas estão sendo usadas. Na noite seguinte da bomba de Hiroshima, entramos num mundo onde um país pode matar todos nós e caímos na mentalidade de que, se esse país tem que existir, eu prefiro que seja o meu. Depois de Hiroshima e do uso de uma bomba nuclear, com o potencial das armas cibernéticas, agora vivemos em um mundo onde apenas uma pessoa pode matar todos nós. Esse é um mundo muito instável e, por causa disso, o que cada pessoa pensa, sente e acredita importa muito hoje em dia.
Luciano Huck: Como podemos repensar e remodelar o mundo? Do meu ponto de vista, a única ferramenta que tem capacidade exponencial de mudar as coisas é a política. Então, temos que trabalhar duro para construir uma nova geração de políticos que consigam administrar o Estado de maneiras diferentes e inspiradoras.
Thomas Friedman: Meu próximo livro é sobre isso. Como podemos repensar um mundo que está ficando mais rápido, mais fundido e mais profundo? Está ficando rápido, porque o ritmo das mudanças continua acelerado. Está se fundindo, porque não estamos simplesmente interconectados agora, estamos realmente unidos. E, ao mesmo tempo, a tecnologia está indo mais fundo, até lugares em que nunca tinha chegado antes. De repente, usamos a palavra deep em tudo: deep fake, deep estate (estado profundo), deep mind, deep research (pesquisa profunda). Isso vai exigir um tipo diferente de política, diferente da política binária esquerda/direita, uma política que reflita o que eu chamo de política quântica. Se você pensa nos partidos políticos do Brasil ou dos EUA durante toda a revolução industrial, eles se enquadram, basicamente, em uma espécie de grade esquerda-direita, grandes governos ou pequenos governos, governos abertos ou governos fechados. Desse modo, nossa política espelhava a computação clássica, a computação binária clássica, 0 ou 1, 0 ou 1. A computação clássica é como jogar uma moeda, se você pudesse jogar uma moeda um bilhão de vezes em um transistor e criar zeros e uns, você geraria energia computacional. Mas o mundo está entrando rapidamente em um lugar profundo onde não são passíveis as simples soluções binárias de esquerda ou direita. Esse novo lugar reflete muito mais a computação quântica. E o que é computação quântica? Bom, computação quântica é como rotacionar uma moeda, não simplesmente jogá-la e ver se sai cara ou coroa. Na computação quântica, você pode estar de vários jeitos ao mesmo tempo. E, se você puder criar um algoritmo para capturar essas múltiplas possibilidades, o que é muito difícil, você obtém uma quantidade maciça de computação. Para realmente governar um mundo rápido, fundido e profundo, você precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo. Um exemplo simples: no mundo binário, o trabalho do governo era educar, e o trabalho das empresas era empregar. Você emprega, eu educo. Mas veja o que está acontecendo hoje no mundo corporativo. A IBM, por exemplo, descobriu que, como as mudanças continuam se acelerando rapidamente, ela não pode esperar que o governo eduque as pessoas para que a ela possa empregá-las – ela também precisa ser uma educadora. E qual partido político americano apoia a capacidade de cada empresa ser uma educadora? Isso não está no espectro esquerda-direita. Você precisa sair da visão binária esquerda-direita e entrar numa visão quântica do mundo, uma visão de ecossistema, e nós vamos levar a educação através dos ecossistemas daqui em diante, não da antiga maneira binária.
Luciano Huck: Acredito que os governos que não se adaptarem a essas novas dinâmicas, que não se transformarem em grandes plataformas digitais, vão perder a capacidade de governar.
Thomas Friedman: Exatamente, e os políticos respondem a isso recorrendo ao que eles sabem, a uma política tribal populista e emotiva. Eu acredito que já estamos numa fase de transição, da política binária para essa política tribal maluca, mas indo em direção à política ecossistêmica.
Luciano Huck: A pandemia veio para escancarar nossas desigualdades. E uma das mais graves, a meu ver, é a desigualdade educacional. Não de acesso, porque hoje no Brasil temos a enorme maioria das crianças e jovens frequentando a escola, mas de qualidade. Em uma mão, conseguimos trazer quase a integralidade das crianças para dentro da sala de aula nos últimos 30 anos, mas, na outra, ainda falta qualificar e valorizar professores, unificar os currículos, modernizar os processos de aprendizado e também digitalizar todo o processo. Hoje no Brasil temos alunos digitais em uma escola analógica. Na educação superior, também avançamos, principalmente no acesso à educação superior. Porém, isso também não significou qualidade. Há tempos, você contesta que não faz sentido o modelo de educação superior que nos trouxe até aqui – estudar por 4 anos e depois ficar 40 anos utilizando esse conhecimento adquirido, que foi o modelo do século 20. Você pode discorrer um pouco sobre isso? Como você avalia o impacto da pandemia nos sistemas e processos educacionais?
Thomas Friedman: Não há dúvida de que teremos mais ensino a distância. Os sistemas serão mais híbridos daqui em diante. Dizem que estamos passando do aprendizado just-in-case para o aprendizado just-in-time. Em vez de enchermos as cabeças das nossas crianças com todo tipo de coisa, focaremos no que elas vão precisar em um mundo de rápidas transformações. Obviamente, todo mundo precisa da leitura, escrita e aritmética em um certo nível, mas, quando você chega lá, haverá muito mais aprendizado just-in-time, que pode acompanhar o ritmo da mudança e que exige mais informações online. E, assim como o meu restaurante chinês, as escolas vão ficar realmente boas no ensino online. Você terá salas de aula muito melhores, e então haverá apenas a questão do acesso, garantir que todos tenham acesso a essas ferramentas, todas as favelas e comunidades pobres do país. E, uma vez que você fizer isso, teremos um renascimento real, porque mais do que nunca as pessoas terão acesso a ferramentas baratas de educação.
Luciano Huck: Você acha que a noção de comunidade vai se fortalecer no mundo após a pandemia?
Thomas Friedman: Meu último livro tinha uma música-tema, de uma das minhas cantoras favoritas, Brandi Carlile, ela se chama The eye. E o refrão é: “Enrolei seu amor ao meu redor como uma corrente, mas nunca temi que acabasse. Você pode dançar em um furacão, mas só se você estiver no olho dele”. Todas essas mudanças que estamos tendo agora, a pandemia, as mudanças cibernéticas, as climáticas, elas são como um furacão. E há um grupo de líderes mundiais, o do Brasil e o dos EUA, por exemplo, que reage dizendo que vão construir um muro contra o furacão. Já outro grupo de líderes está pensando em como construir algo no olho do furacão, algo que se move junto com a tempestade, que extrai energia dela e cria uma plataforma de estabilidade dinâmica, não estabilidade congelada – estabilidade dinâmica, como andar de bicicleta. Um lugar onde as pessoas se sintam conectadas, protegidas e respeitadas. Essa é a comunidade saudável. E acho que um país construído sobre comunidades saudáveis, que podem se mover junto com a tempestade, esse é o caminho adiante. E a grande luta política global à nossa frente será entre as pessoas do muro e as pessoas do olho. E meu coração e meu último livro estão com as pessoas do olho.
Luciano Huck: No começo desta pandemia, você lembrou uma analogia de Warren Buffet sobre a crise de 2008...
Thomas Friedman: Lá em 2008, Warren Buffett disse que a crise financeira era como estar na praia e, quando a maré desce, podemos ver quem está nadando nu e quem tem trajes de banho. Pandemias financeiras e biológicas expõem tudo, e essa crise expôs os governos que não estão à altura do desafio. E acho que, na melhor das hipóteses, os EUA e o Brasil têm pequenos biquínis, mas, na pior das hipóteses, estão nus.
Luciano Huck: Acho que estamos nus. Muito obrigado pela conversa, Tom.
