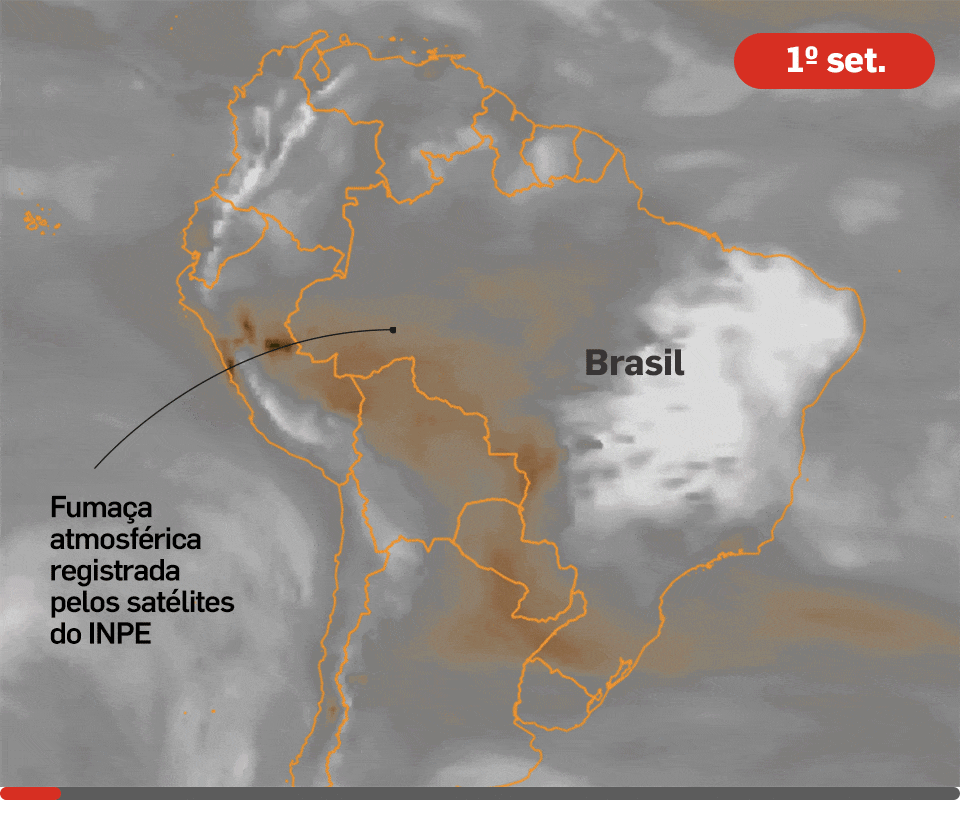
Um Brasil encoberto
Nuvens de fumaça formadas pelas queimadas no Pantanal e Amazônia atingem a região Sul e Sudeste e escancaram a dimensão da tragédia ao meio ambiente, à saúde da população e à economia do País
Atualizado em 22 de setembro de 2020 | 5h31
Uma coluna de fumaça se ergue nas matas de Altamira, na região central do Pará, avança numa via aérea por mais de mil quilômetros, rumo oeste, vai ganhando corpo por onde passa, até se juntar a um mundaréu de nuvens cinzas aglomeradas sobre o céu de Apuí, no sul do Amazonas. A massa disforme flutua e alcança Rio Branco, faz um rodopio pela capital do Acre, para se aglutinar sobre os prédios de Porto Velho, em Rondônia, onde os olhos da população só enxergam o turvo. A fumaceira, então, tragada pelas correntes de vento, despenca rumo ao Mato Grosso, onde se avoluma a perder de vista. As árvores altas da Amazônia já ficaram para trás. Agora, é sobre as planícies do Pantanal que o manto da fuligem viaja mais pesado, e chega às raias de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia.
Pelas telas do computador, da TV e do celular, a população das regiões Sudeste e Sul do País assiste, como capítulos de uma série, a cenas diárias das labaredas que consomem as florestas, secam as terras alagadas e deixam um rastro de animais carbonizados pelo caminho. A tragédia tão distante do mato, porém, já sobrevoa o telhado de suas casas. A algumas centenas de metros de altura, sobre os bairros nobres de São Paulo, a fumaça que viajou 4 mil, 5 mil quilômetros, já se espraiou. As imagens de satélite mostram os céus da América Latina varridos por um gigantesco tornado carregado de partículas de ipês, castanheiras e jatobás. Nas grandes capitais, fala-se dos riscos de uma tal chuva negra. A população se inquieta. Não era ficção.
É mês de setembro, dias de alta das queimadas em todo o País. Isso nunca foi segredo. Mas os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) teimam em confirmar que, no calendário de 2020, este não é um mês qualquer. Há 22 anos, o órgão federal responsável pelo monitoramento do País por meio de imagens de satélites mede o avanço diário dos incêndios no território nacional. Os registros públicos dão conta de que foi num longínquo agosto de 2005 que o Brasil conheceu o seu pior mês de queimadas no Pantanal. Foram 5.993 focos de incêndio identificados no bioma naqueles 30 dias. Esse recorde, porém, acaba de ficar para trás.

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro dá “parabéns” ao seu governo por preservar o meio ambiente, os satélites do órgão ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia mostram que o Pantanal nunca viveu um período de destruição pelo fogo como o atual. Bastaram 20 dias deste mês de setembro para que mais de 5.900 focos de queimadas ardessem sobre o bioma. Somados todos os incêndios ocorridos no Pantanal desde o dia 1º de janeiro, 2020 já entrou para a história como o ano mais avassalador desde o início da série histórica medida pelo Inpe, em 1998. Em menos de nove meses, o Pantanal chega a 16 mil focos de incêndio. Antes disso, o ano que mais havia castigado a região – e isso considerando todo ciclo de 12 meses – foi o de 2002, quando 12.500 focos de incêndio atingiram a maior planície inundável do planeta, com cerca de 150 mil quilômetros quadrados espalhados entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, diz que as queimadas são “fenômeno natural” e que críticas são uma tentativa de derrubar presidente.
A paisagem não é diferente rumo ao Norte do País, na Amazônia. O Brasil volta a percorrer os mesmos cenários catastróficos do ano passado, fazendo com que as queimadas da maior floresta tropical do planeta deixem de ser preocupação de ambientalistas e passem a fazer parte de relatórios de riscos e investimentos de grandes bancos e multinacionais. Se apenas em setembro de 2019 a Amazônia foi engolida por 19.900 focos de incêndios, neste mês ainda inacabado já caminha para superar a marca de 30 mil pontos identificados. O volume consolidado em 2020 já ultrapassou os 70 mil focos de queimadas na região, ante os 89 mil registrados nos 12 meses do ano passado.
Cenário alarmante
Focos de incêndio
Os pontos vermelhos [●] no mapa representam os 116.477 registros de queimada na América do Sul, entre 1º e 16 de setembro, segundo o serviço Fire Information for Resource Management System (FIRMS), da NASA
Assim como fez em 2019, o governo enfrenta o fogo e a devastação do meio ambiente com as mesmas ferramentas: nega qualquer anormalidade no cenário catastrófico e atribui a situação aos meses de seca, culpa os indígenas pelos incêndios, entra em confronto com os dados científicos, faz demissões de chefes do setor, critica a publicidade dos dados, culpa a imprensa por divulgar as informações, incrimina as organizações não governamentais e, finalmente, afirma que é vítima de conluio de países europeus interessados em minar o potencial brasileiro no agronegócio. No céu, a fumaça não dá trégua.
Na sexta-feira, 18, quando viajava para o berço da soja no Mato Grosso, o presidente Jair Bolsonaro viu seu próprio avião ser obrigado a arremeter na hora em que se preparava pousar na cidade de Sinop. Pelo rádio, o piloto informou que, devido à fumaça das queimadas, não tinha nenhuma condição de aterrissar com segurança.
O avião voltou a subir, fez uma volta e mirou a pista pela segunda vez, quando finalmente conseguiu pousar no aeroporto municipal que leva o nome do general João Batista Figueiredo, o ex-presidente militar que ficou famoso ao dizer, em 1978, que “o cheirinho do cavalo é melhor (do que o cheiro do povo)”.
Bolsonaro, assim que colocou os pés no chão, caminhou pela paisagem esbranquiçada e tratou de normalizar a situação. “Aqui, quando nosso avião foi pousar, ele arremeteu. É a segunda vez que acontece na minha vida. Uma vez foi no Rio de Janeiro. Obviamente, é sempre algo anormal de estar acontecendo. No caso, é que a visibilidade não estava muito boa. Para nossa felicidade, na segunda vez, conseguimos pousar. Nós estamos vendo alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil, isso acontece ao longo de anos e temos sofrido crítica muito grande.”

O ar que respiramos. Nas grandes cidades, as queimadas da Amazônia e Pantanal deixaram de ser uma preocupação com o meio ambiente para se transformarem em riscos à saúde. Não bastasse a preocupação das pessoas com os riscos de contaminação pela covid-19, especialistas passaram a alertar que, caso a fuligem desça para as camadas mais baixas da atmosfera, é preciso tomar cuidado para que não seja respirada, porque pode se instalar no pulmão e ser distribuída no sangue. Em cenários mais graves, essa mesma fumaça pode até causar complicações cardiovasculares, como infarto ou AVC.
“Os contaminantes das queimadas estão circulando na atmosfera com as massas de ar. Então, ao chover, com certeza a água da chuva virá contaminada. Não tem muito o que discutir sobre isso”, explica o pesquisador do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Alberto Setzer, especialista em queimadas.
Não se trata de teorias conspiratórias, mas de pesquisas científicas que demonstram que as queimadas têm afetado não apenas o meio ambiente e as mudanças climáticas, mas a vida do cidadão, para escancarar o óbvio: os impactos estão diretamente interligados.
No mês passado, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e a Human Rights Watch concluíram uma análise sobre o impacto que as queimadas, associadas ao desmatamento na Amazônia, tiveram sobre a saúde da população em 2019. Os dados coletados incluíram informações coletadas junto ao Inpe, dados oficiais sobre poluição do ar no período e internações hospitalares confirmadas por doenças respiratórias nas regiões mais afetadas pela fumaça. A análise incluiu ainda entrevistas com autoridades e profissionais da área da saúde em cinco estados da Amazônia brasileira.
As conclusões mostram que as queimadas tiveram um impacto significativo sobre a saúde pública. O estudo revela que 2.195 internações causadas por doenças respiratórias estão diretamente atreladas às queimadas. Destas internações, 467 (21%) afetaram bebês de zero a 12 meses de idade e 1.080 (49%) de pessoas idosas, com 60 anos ou mais.
Cerca de 3 milhões de pessoas que vivem em 90 municípios da região amazônica foram expostas, durante agosto do ano passado, a níveis nocivos de um “material particulado fino” - conhecido como PM 2,5 - uma substância que ultrapassa o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para que não afete a saúde das pessoas. No mês seguinte, a população exposta aumentou para 4,5 milhões de pessoas, em 168 municípios. O relatório deixa claro que o poluente está relacionado à ocorrência de queimadas na Amazônia e tem sido associado a doenças respiratórias e cardiovasculares, além de mortes prematuras.
Cultura da ignorância. Fogo não brota do mato. Quem incendeia a mata, seja acidental ou intencionalmente, é o homem. Com raríssimas exceções, como a ocorrência de um raio, o aquecimento de uma pedra ou de um pedaço de vidro lançado na mata, quem coloca fogo na floresta é uma pessoa. Mas por quê?
O governo tem uma resposta pronta para isso. O argumento oficial é de que, nos meses de seca, proprietários rurais, o que incluiria os indígenas, queimam suas áreas para renovar o plantio e pastagem quando as chuvas chegarem.
“Pessoal, tem certas regiões aqui, focos de incêndio que vão existir quase todo ano, que é caboclo. É o índio que toca fogo. Se ele não tocar fogo, é a cultura dele, ele não vai comer, não tem nada o que comer no ano seguinte”, afirmou o presidente Bolsonaro, em uma live realizada no dia 23 de julho. No mês passado, foi a vez de o vice-presidente Hamilton Mourão reforçar a tese de que as queimadas são uma “questão cultural”, de “preparação da terra por agricultores”.
Há muitos anos, porém, a ciência já provou que a queimada da terra, na realidade, não traz nenhum benefício, uma vez que queima absolutamente todo material orgânico ali presente, exigindo que novas composições sejam lançadas para repor aquilo que foi consumido pelo fogo. “Estamos falando de combustão de matéria orgânica. Essa fumaça carrega fósforo e potássio, ou seja, jogamos adubo na atmosfera para, depois, comprar fertilizante que vai repor isso. É um contrassenso absoluto essa história de queimar”, explica o coordenador de monitoramento de queimadas do Inpe, Alberto Setzer. “Qualquer produtor minimamente informado sabe que o solo sem matéria orgânica e elemento químico não serve para nada. Não se pode chamar isso de algo cultural e, assim, ser algo aceito. A queima não é recomendada e isso já está definido há décadas.”
A tese do governo é reforçada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Em julho, o órgão ligado ao Ministério da Agricultura afirmou que 90% dos focos de incêndio ocorridos na Floresta Amazônia em 2019 se deram em áreas já desmatadas e que a ação não estaria derrubando porções da floresta para a abertura de novas áreas de cultivo.
A Embrapa colocou a culpa das queimadas em pequenos produtores rurais já estabelecidos na região, que não contariam com tecnologias mais modernas para o preparo de terrenos que já são utilizados em pastagens e lavouras.
Uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), no entanto, mostra que a concentração de focos de incêndio na Amazônia não acontece em áreas já desmatadas da região. O órgão, que estuda a região há 25 anos e fez um levantamento detalhado a partir de dados oficiais do Inpe, revelou que, em 2019, 30% do fogo registrado na Amazônia foi incêndio florestal, ou seja, ocorrido em área protegida. Outros 36% estão associados ao manejo agropecuário e os demais 34%, a desmatamentos recentes.
Evolução das queimadas
O pior setembro dos últimos tempos
Focos ativos de incêndio, entre 1º e 16 de setembro, segundo o serviço Fire Information for Resource Management System (FIRMS), da NASA. Pico foi no dia 13 de setembro, com 11.958 focos.
Prejuízos incalculáveis. O drama mundial das queimadas tem efeito mais corrosivo, em particular, na Amazônia, dado o volume da riqueza ambiental do bioma. Os cientistas do Ipam já confirmaram que, enquanto um hectare de floresta da Califórnia, no Estados Unidos, por exemplo, tem cerca de 25 espécies de árvores, esse volume chega a aproximadamente 300 espécies no solo amazônico.
“É provável que a cura do câncer esteja na Amazônia, que a cura de uma série de problemas de saúde da humanidade esteja lá. É lá que está a garantia de todo o regime de chuvas que garante a manutenção da irrigação. Então, veja, o prejuízo com essas queimadas é incomensurável”, diz Paulo Moutinho, doutor em ecologia e cientista sênior do Ipam.
Diferentemente do Cerrado, bioma que possui alta capacidade de renovação após ser atingido pelo fogo, a Amazônia não aprendeu a lidar com a queimada. Não há regeneração. Uma vez destruída, a floresta é substituída pelo mato, nada mais. “É por isso que o crescente processo de savanização dessa área é uma realidade. Ela não sabe enfrentar o fogo, não se adaptou a ele. Como esse capim volta a pegar fogo ano após ano, o resultado é a perda da floresta.”
Com cada vez menos ipês, maçarandubas, jatobás, itaúbas, castanheiras e angelins de pé na floresta, a população dos grandes centros urbanos continua a assistir ao desastre ambiental que assola o País, mas agora, como testemunha ocular. Não é de hoje que a chuva negra tem molhado os telhados em cidades de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Nos últimos dias, moradores da região Sul do País colheram a água que caía do céu, misturada com um pó escuro. Não teve banho de chuva. Acompanharam, da janela, a água turva que corria lá fora.
Fontes
INPE / Programa Queimadas – Apoio; Fire Information for Resource Management System (FIRMS/NASA); Período de coleta dos dados: 1º de setembro a 16 de setembro de 2020

